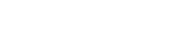Quais os caminhos para se avançar na avaliação sob a perspectiva inclusiva? Michele Fonseca, fundadora e coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre Inclusão e Diferenças na Educação Física Escolar (Lepidefe/UFRJ) e doutora em Educação, abordou o tema durante a conferência de abertura da III Partilha Pedagógica, realizada pela 11ª CRE.
O evento foi encerrado com a palestra do professor Márcio Costa, doutor em Sociologia e diretor da Escola de Formação do Professor Carioca Paulo Freire, que destacou a importância do erro no processo de construção do conhecimento.
Avanços no campo da inclusão e o conceito de pessoa com deficiência

Inicialmente, Michele Fonseca destacou a importância da Conferência Mundial de Educação para Todos (1990) e da declaração resultante desse encontro: um documento da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), cujo objetivo era criar estratégias para superar a exclusão.
“A partir daí, passou a se falar do direito de todos e não de um grupo específico que apenas coexistia com outros”, explica a doutora, ressaltando que pessoas com deficiência foram vistas e tratadas de maneiras distintas ao longo da História.
“Em uma época mais remota, elas eram encarceradas, ignoradas ou até assassinadas. Depois, percebeu-se que possuíam capacidades, ainda que limitadas, e passaram, então, a ser segregadas. Com o tempo, veio o período da integração, quando foi reconhecido o direito de essas pessoas estarem escolarizadas e viverem em sociedade.”
Algumas diferenças conceituais também foram pontuadas pela educadora.
“Pessoa com deficiência é alguém diagnosticado clinicamente com algum tipo de deficiência, seja ela física, intelectual, sensorial ou múltipla. Por ‘público-alvo da Educação Especial’, entende-se pessoas com deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e superdotação/altas habilidades. Com a Declaração de Salamanca (1994) – documento da Unesco sobre princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais –, passou-se a usar o termo ‘pessoas com necessidades educacionais especiais’, fossem de caráter temporário ou permanente. Até que nos anos 2000, especialmente a partir de 2005, a abordagem é sobre ‘necessidades específicas’, inclusive do professor”, explicou.
Diferenças entre integrar e incluir
Michele Fonseca destacou paradigmas e concepções diferentes entre integração e inclusão. A primeira prevê inserção parcial e condicional; defende o direito das pessoas com deficiência; e considera suficiente a presença de pessoas com e sem deficiência no mesmo recinto. Já a inclusão presume inserção total e incondicional; defende o direito de todos; e considera a participação ativa de todos em um mesmo ambiente.
“Não é possível pensar na avaliação apenas na perspectiva da integração”, afirmou, citando um exemplo de sala de aula. “Se o professor está ensinando adição para a turma e, neste momento, dois alunos são deixados de lado brincando, eles não estão incluídos. Pessoalmente, acho que nem mesmo integrados. Estão excluídos”, opinou.
A especialista reforçou que a inclusão é um processo dialético infindável que prevê mudanças e esforço coletivo. “Devemos ver a inclusão como um norte e não um fim. Podemos ter atitudes excludentes; somos seres humanos. Mas precisamos refletir e nos desafiar a cada dia. A escola é um campo potencial de inclusão porque todos estão presentes nela. Mas como observar as habilidades de um aluno se você não dá oportunidade para ele mostrar o potencial que tem?”, provocou Michele, citando o exemplo de um estudante que não participa das aulas de Educação Física, e poderia ser um atleta paralímpico.
Avaliação sob uma perspectiva inclusiva

Imagem: http://www.filosofiahoje.com/
Após exibir a charge acima, a doutora em Educação citou e comentou a seguinte frase de Albert Einstein: “Todo mundo é um gênio. Mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ele vai gastar toda a sua vida acreditando que é estúpido”.
“É preciso rever o conceito de participação, repensar a produção que o aluno pode dar. Para uma avaliação ser justa, ela tem que ser igual para todos? O ser humano não é igual. Somos filhos de um sistema educacional que nos colocou em um só caminho a vida inteira, mas temos que ir além do que, para nós, sempre foi lógico, e desconstruir, pensar sobre que outros caminhos e oportunidades podem ser disponibilizados aos estudantes. Ou nunca iremos avançar na avaliação sob a perspectiva inclusiva”, afirmou, antes de destacar um trecho do livro Avaliação: uma prática em busca de novos sentidos, de Maria Teresa Esteban:
“Frequentemente a avaliação feita pelo professor se fundamenta na fragmentação do processo ensino/aprendizagem e na classificação das respostas de seus alunos e alunas, a partir de um padrão predeterminado [...] a avaliação escolar, nessa perspectiva excludente, silencia as pessoas, suas culturas e seus processos de construção de conhecimentos; desvalorizando saberes, fortalece a hierarquia que está posta, contribuindo para que diversos saberes sejam apagados, percam sua existência e se confirmem como a ausência de conhecimento.”
Assim, Michele também criticou a valorização de algumas disciplinas em detrimento de outras. “Qual é o propósito da hierarquização de conhecimento? Há um problema gravíssimo em se achar que o dez em Matemática suplanta o zero em Artes. Queremos formar qual tipo de pessoas?”.
Para ela, a avaliação gera impactos negativos no estudante e um grau assustador de pressão que leva, por exemplo, alunos participativos a terem um “branco” na hora da prova, por medo e/ou angústia, já que são avaliados por aquele momento.
“É claro que precisamos colocar um número, mas correspondente a um processo educacional desenvolvido em sala de aula ou só ao momento da prova? A avaliação deve ser parte, e não o momento estanque do processo de aprendizagem”, disse Michele, ressaltando que o artigo 24 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional prevê, no inciso V, que a verificação do rendimento escolar deve partir de uma “avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais”.
Em seguida, a educadora fez uma interessante comparação entre um consultório médico e uma escola. “Imagine que um médico lhe diga que seu estado de saúde geral seja nota cinco. Para quê serviria isso? De que adianta uma avaliação que apenas confirma ‘a doença’, sem identificá-la e/ou mostrar sua cura? Um bom médico investiga.”
Nesse contexto, Michele Fonseca apontou alguns caminhos aos professores, como não comparar o desempenho de um aluno com o da turma, e sim reconhecer o que ele não sabia e aprendeu; registrar avanços e dificuldades; considerar a ludicidade como caminho para a aprendizagem, independentemente do ano de escolaridade; e envolver os alunos na própria avaliação, dando a eles a responsabilidade de construir um instrumento.
“Eu opto pela avaliação de cunho inclusivo. Estou mais preocupada em formar pessoas e não apenas em preparar para provas oficiais”, finalizou.
O erro como parte do processo de construção do conhecimento

No encerramento da III Partilha Pedagógica, o professor Marcio Costa pontuou que, apesar de a ideia de que se aprende a partir do erro ser um senso comum, o desafio é pensar no como se aprende.
Segundo o sociólogo, modelos de ensino e aprendizagem que estimulam a tentativa e o erro, em sala de aula, produzem aprendizados com muito mais força e significado. “Modelos colaborativos e metodologias ativas, que preveem mais interação, funcionam melhor porque boa parte deles explora isso”, comentou.
Márcio Costa também defendeu a exposição aos alunos de teorias que se confrontam, a fim de alargar a capacidade de raciocínio do estudante e estimular uma formação mais crítica. Além disso, ele destacou a importância de se apresentar a maneira como determinados conhecimentos foram construídos e, depois, considerados equivocados.
“Ciência é atividade de gente que erra. Fazer o aluno entender isso humaniza e o leva a ter uma percepção diferente do mundo.”