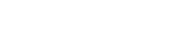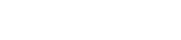Se determinados setores das elites brasileiras (os amigos do rei) se beneficiaram a partir da vinda da família real, em 1808, para as terras da colônia americana, o preço a ser pago multiplicava-se a cada instante. A compensação oferecida pela obtenção da distinção, grandeza e civilidade, conseguida pelo contato com a corte, esfumaçava-se. Era pouco, diante dos custos exigidos em enormes sacrifícios.
Os encargos pesados justificavam a crescente insatisfação dos habitantes da cidade, pois nem todos, nessa relação de proximidade amistosa, eram como nos versos da canção de Marco Antônio Gonçalves dos Santos – “o amigo, do amigo, do amigo, do amigo, do amigo” (de D. João). Se, por um lado, os benefícios alcançavam poucos súditos, por outro, a conta a ser quitada pertencia a todos.
Tais sentimentos, traduzidos em protestos, caminharam para além das cercanias do Paço Real; partiram do Rio de Janeiro, alcançando pontos diversos da colônia e da metrópole. As reclamações pelas ruas, pelos becos e pelas vielas da cidade aumentavam gradativamente. Envolviam, por exemplo, as enormes despesas relativas à manutenção da corte, com tantos criados.
Abundantes impostos e taxas espalharam-se pelo Brasil para sustentar aquele grupo visto como ocioso, que permanecia esbanjando como se ainda estivesse em Portugal e como se não houvesse amanhã. Acumulavam-se comentários de que as riquezas (em moeda circulante da época, em ouro e em diamantes) trazidas do Reino pela Casa Real não teriam sido suficientes nem para o começo das despesas. A população reclamava que não havia recursos que bastassem para tantos desperdícios feitos à custa alheia.
Talvez, nesse momento, aquelas nuvens claras e serenas sob o retrato do príncipe regente D. João (1767-1826), que ilustraram o painel que recepcionou a chegada da família real ao Rio de Janeiro, já nem fossem tão plácidas assim. Escurecidas, possivelmente apontassem para o prenúncio de relâmpagos e de trovões que, se não eram plenamente previsíveis, seriam, adiante, irreversíveis.