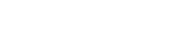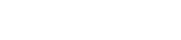Genericamente, nos tempos da América portuguesa, a palavra pirataria referia-se à ação hostil de estrangeiros que invadiam a colônia, explorando as riquezas naturais ou saqueando os núcleos litorâneos. Um ato de pirataria, presume-se, envolveria a violência sobre pessoas e objetos, ataques a embarcações e apropriação completa ou parcial de sua carga.
Seguindo o olhar dos conquistadores portugueses, que obviamente defendiam a propriedade das terras obtidas por meio do Tratado de Tordesilhas, os estrangeiros que se aproximassem da sua possessão do outro lado do Atlântico seriam sempre malvistos e temidos. Ações diferenciadas eram entendidas, genericamente, como pirataria e seus agentes, como piratas.
Segundo o arqueólogo Leandro Domingos Duran, agindo com objetivos e funções diferenciadas existiam “corsários que traficam pau-brasil, comerciantes que são identificados como corsários, corsários que praticam pirataria, piratas contrabandistas, corsários que são piratas, etc.”. Muitos desses indivíduos eram oficialmente patrocinados por nações europeias. Porém, frente à dificuldade de fiscalização internacional eficaz, a linha entre o que era a pirataria oficial (relativa aos que portavam a Carta de Corso) e a criminosa (ligada àqueles que não a tinham) ficou indefinida.
Uma política do terror foi implantada pela Coroa para coibir a ação desses indivíduos chamados pelo governo português de estrangeiros vis e infames. A punição? O enforcamento, a ser cumprido sem demora. Esse tipo de sentença distanciava o pirata, “por exemplo, da figura do corsário, que, atuando sob as ordens ou com a autorização de um determinado Estado, jamais poderia ser punido com a morte, devendo ser tratado como um elemento beligerante oficial”.
A diferença da classificação determinaria vida ou morte. Entende Duran que Portugal reafirmava ser legítimo o “seu direito de posse com relação às terras brasílicas” e entendia que “o que é estrangeiro é vil e infame (...) vê, nos índios, bárbaros; nos franceses, piratas”.