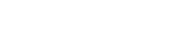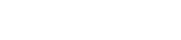Segurança e estabilidade eram palavras esquecidas em novembro de 1807 no reino português. As ameaças de invasão por parte das tropas de Napoleão Bonaparte (1769-1821) traziam de volta o projeto e a estratégia pensados pelo diplomata e político D. Rodrigo de Souza Coutinho (1755-1812): fechar as malas, incluindo a coroa e o cetro, levantando as âncoras em direção à colônia americana. Diante dos fatos, o que era visto como possibilidade, todas as vezes que os reis se sentiam ameaçados na sua soberania, ganhava sentido e significado. Perder a coroa, nem pensar!
Os dias e as noites eram de medo para a população de Lisboa, que despertava assustada e adormecia intranquila, ouvindo as notícias da aproximação das tropas francesas que cruzavam os limites territoriais entre Portugal e Espanha e avançavam rumo à cidade.
As informações se multiplicavam e eram desencontradas. Pelas ruas, corria o boato: se o príncipe regente abandonasse Portugal e viesse para as terras brasileiras, sua embarcação naufragaria. A situação cotidiana se agravava. Começavam a faltar carne e trigo, e um decreto real estabeleceu, então, que só seria permitido o uso da farinha de trigo para a feitura do pão. Foram proibidos bolos, doces e outras utilizações do produto.
Diante da evidente invasão das tropas francesas, o governo conduzido pelo regente D. João (1767-1826) decidiu agir. Contudo, uma situação era planejar; outra, bastante diferente, era realizar, colocar em prática o projeto de D. Rodrigo. Havia muito a ser feito, e a viagem aconteceria sob pressão: embarcar a família real e seus afortunados acompanhantes, um número incontável de malas e baús, além de abastecer os navios com víveres e água potável, representava uma tarefa complexa.
Afinal, “era a sede do Estado português que mudava de endereço, com seu aparelho administrativo e burocrático, seu tesouro, suas repartições, secretarias, tribunais, seus arquivos e funcionários”, como registra a antropóloga Lilia Moritz Schwarcz. Tudo o que fosse fundamental para sustentar a dinastia dos Braganças e dar continuidade ao governo deveria cruzar as águas atlânticas e aportar em segurança na sede do vice-reinado americano, situado na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro desde 1763.
O percurso era longo e as preocupações, inúmeras. A contar do século XV, muito tempo havia se passado desde a época em que os navegadores lusos enfrentaram, aventureiramente, as águas atlânticas temidas e desconhecidas, buscando riquezas e glórias. Se, por um lado, em 1807 esses trajetos poderiam ser mais seguros, por outro, seria a primeira vez que uma família real cruzaria o oceano, enfrentando toda sorte de imprevistos, para tentar viver em segurança longe de sua terra natal. Entre os embarcados, estavam os conselheiros, os ministros, a nobreza, os servidores da Casa Real, a corte. Todos com as suas famílias.
Eram dias agitados que o calendário indicava em 1807. Resposta à crendice popular ou não, chovia intensamente e um forte vento sul soprava, rodopiando pelas ruas e pelos caminhos da capital do Reino. Confirmaria-se o boato, em tom de misticismo, de que se a família real de Bragança abandonasse Portugal, a embarcação naufragaria nas águas atlânticas? Para os viajantes, nos momentos que precederam a partida de Lisboa, outras preocupações eram realidade: conseguiriam zarpar antes que as tropas inimigas alcançassem a cidade? Fariam a travessia do Atlântico em segurança? Dúvidas tumultuavam o pensamento de incontáveis portugueses – daqueles que iam, daqueles que pretendiam ir, daqueles que sonhavam em ir e daqueles que sabiam que iriam ficar. Naquele momento, talvez contassem, apenas, com a certeza da incerteza.